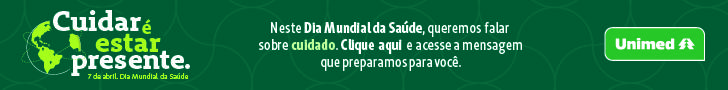A Covid-19, essa sigla infame, nos tirou muita gente. Inúmeras famílias ainda secam as lágrimas sobre os túmulos de quem se foi sem adeus, sem um abraço, sem um último olhar. Com essas mortes, retomamos o nosso trauma inicial, a mais profunda das nossas perdas, a mais efetiva das nossas preocupações.
Mas toda morte, assim, em grande escala, nos traz lições que precisam ser aprendidas. Soam como emendas de vida, inserção de elementos que nunca mais deixarão de machucar, lá onde a presença de um ente querido é notada agora com essa estranha forma, precisamente a de uma perda. Muitos dizem que a experiência dessas mortes é uma experiência de igualdade: aprenderíamos, com o vírus, que todos somos corpos e somos vulneráveis.
Essa vulnerabilidade, contudo, não está apenas no morrer, mas no ato mesmo de perder quem morreu. Os que ficam interessam mais do que os que partiram. A esses, que seguem suas vidas agora marcadas, indeléveis, pela permanência da memória, na forma da saudade. É com essa sensação estranha de dormir e acordar na ausência, que no latim se diz absens (ab refere-se a fora, afastado e sens diz esse, ou seja, ser, estar). Nenhuma experiência é tão decisiva na vida do que essa de conviver com o que falta, de lidar com o que foi, que está fora, afastado. Ela está ligada não à morte como conceito abstrato, mas à morte efetiva, a morte de quem morreu, de quem falta, de quem perdemos.
A morte nos desalinha e nos enche de insegurança. Com ela, disse Heidegger, estamos diante da “possibilidade mais própria, irremissível, certa e, como tal, indeterminada e insuperável presença”. É verdade: a morte é irrevogável e sua presença revela-se nas ausências que nos afligem. A morte é sempre não-ser: quando vivos, porque ainda não; quando mortos, por que não mais. Somos para ela e somos a partir dela. De um lado, ela nos faz como vivos, organicamente falando; por outro, ao tirar quem amamos, ela passa a fazer parte de nós, existencialmente falando. Se a minha morte me constitui como ser vivo, a morte do outro me constitui como ser humano. Se a premência da minha morte me assegura uma vida de plenitude, na medida em que me expõe à exigência de viver; a morte do outro me mostra, antecipadamente, o que serei eu logo a seguir, uma lição que me orienta, pela dor, no caminho que devo seguir até que, afinal, chegue a minha hora. A morte, com isso, é sempre uma textura negativa, um terreno em brasas sobre o qual caminhamos descalços, entre antecipação e possibilidade.
Cada um dos que se foi (não quero falar dos números, tão frios e amorfos), desentranha em nós essa semente de preocupação que toda morte traz e esse horizonte apagado que toda morte é. Preocupação e vazio são as duas formas primárias da nosso destino comum. Preocupados, nos unimos em projetos; esvaziados, nos juntamos em aflições e angústias – essas duas faltas que nos constringem na travessia. Foi por isso que Lacan sugeriu que as subjetividades são “força de pura perda”? Não sei bem. O que sei é que não é apenas a premência do morrer, mas a efetividade do morrido que nos assola. Esse morrido que tem nome, cujas roupas ainda estão nas gavetas, cujas dores ainda preenchem as nossas noites de solidão.
Poucas vezes a morte foi tão comum e banal como agora, repentina, traiçoeira e silenciosa. Um dia o sorriso aberto, o jantar com a família, o pagamento da conta de água, o plano de viagem para o ano; no outro, nada, as roupas sem corpo, a cadeira vazia, os livros sem utilidade, a escova dental e o sabonete ressecados na pia, à espera vã de quem ainda lhes dê utilidade. Com essas perdas, agora, seremos lançados adiante. Não há esponja para apagá-las da superfície das coisas que seguirão marcadas pela sua memória, cotidianamente. Todas as palavras e nomes, por bom tempo, o mais longo possível, terão perfume de saudades, ao redor do qual teremos de reorganizar as coisas: os filhos que ficam, a esposa, o esposo, a dívida, os bens ou a falta deles…
A morte é a experiência constitutiva da perda. Perder é ficar sem a posse, privar-se da presença, fracassar no projeto afetivo que rezou eternidades. Perder é desorientar-se, confundir-se, perturbar-se. Perdidos, estamos sem meta, sem rumo, alheios e corrompidos pelo dano mais soturno, cuja ferida sangra sem cessar. Perdidos estamos quando não há consolo, nenhuma palavra que acuda, explique ou mostre sentido. Diante dessa perda, estamos sem proteção.
Ora, se o desejo é a força motriz do sujeito, a perda é a força que nos retira da frente do espelho e nos emparelha com os demais seres humanos, que ainda estão conosco, partilhando afazeres. É a eles que precisamos, marcados pela perda, orientar nossos afetos. A eles o abraço que faltou, o carinho, o perdão e o consolo não possíveis. Em relação aos que ficaram, a perda ganha conteúdo e passa a evocar obrigações que, de outro modo, poderiam nunca ser cumpridas.
Por causa da perda, estamos sempre atrasados para o carinho de quem fica. Esse não-ser do outro que se foi constitui precisamente aquilo que somos a partir de agora. É com esse vazio que devemos nos envolver agora, de forma constitutiva. Ele preencherá nossas algibeiras, estará no meio dos nossos livros, na água que bebemos, da aurora ao crepúsculo. A perda, como tal, será presença inabalável. A nós caberá aprender com isso e, com o tempo, sentir nosso ser inteiro marcado por esse evento, tal quem carrega em si um remendo, como memória permanente da rasgadura.
Confira aqui outras colunas de Jelson Oliveira
<
p class=”ql-align-justify”>Conheça também os demais colunistas do portal Saúde Debate. Acesse aqui